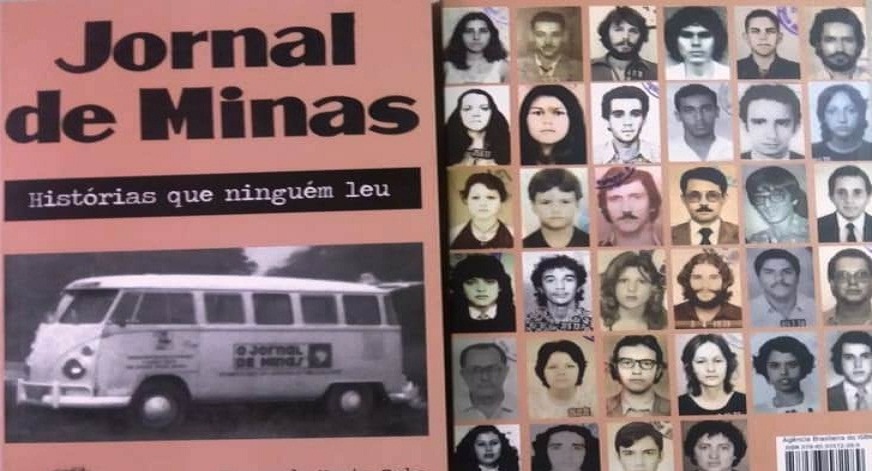Comecei a me viciar em tinta de jornal 18 dias depois de completar 15 anos e 16 dias antes da patada verde-oliva na democracia, com apoio de defectíveis políticos civis. Ao folhear a coleção daquele semanário que me adotou, achei a primeira edição, datada de 1957. Abri na reportagem “A primeira cronista de saias de Minas Gerais”, ou do Brasil, não me lembro. Autor: um tal de Roberto Drummond. Personagem: Anna Marina, a quem o apaixonado chefe Cyro Siqueira, em sua coluna de cinema, chamava de “a moça da página 2”. Ainda bem. Não houvesse mulheres como ela e Osvaldina Nobre, o macho, talvez, ainda estivesse imperando na imprensa mineira.
Não sabia que um dia iria respirar a mesma tinta que eles. E aquele texto nunca saiu da minha cabeça. Anos depois, alguns, creio, chego à redação do Estado de Minas, na editoria (Polícia) do Wander Piroli, Paulo Lott, André Carvalho, Marcos Andrade, João Gabriel, Vargas Vilaça. De longe, via o jornalista que escreveu a reportagem. Da mesma distância, ou mais, a cronista de saias. Não vou dizer que, de início, convivi com Roberto Francis Drummond. Repórter de polícia naquela época era um sujeito à parte. Ouvi, pela primeira vez, a voz do escritor, nascido em Ferros, quando começou a onda dos esquadrões da morte, lá por volta de 1979.
Com a anistia, policiais agentes da ditadura, saudosos do serviço que prestavam ao regime, faziam frila como se estivessem pagando a dívida que tinham com os empresários mantenedores das siglas que abrigavam repressores-torturadores. Roberto se aproximou da nossa equipe, sob olhares curiosos, e perguntou se os grupos de extermínio prestavam serviço à sociedade. A resposta saiu do Marcos, o saudoso Marquinhos: “Não, eles não podem fazer o papel da Justiça!“.
O tempo passou. Não fiquei restrito àquela então incompreendida editoria. Pulei para o esporte, mais perto do cronista-poeta que escrevia sobre futebol de um lado e Hélio Fraga do outro, na mesma página. Sabia que o Roberto curtia certa vaidade, mas não a insegurança. Uma noite, com a cara etilicamente cheia, fiz um comentário não favorável a um livro. Acho que “Sangue de Coca-Cola”. A fala chegou aos ouvidos dele. Ficou cerca de um ano sem sequer olhar para mim. Um comentário desprezível, feito por quem não entendia o mínimo de literatura. Só voltou às boas no romance seguinte, quando me viu na fila de autógrafos.
A insegurança injustificada do Roberto nos levou a uma conversa e a uma promessa. Estava redigindo uma matéria na velha Remington. Ele se aproximou e disse: “Arnaldo, estou indo ao Rio assinar contrato com a Globo. Acha que vai ser bom para mim?”. Arregalei os olhos: “Claro, Hilda Furacão é um belo romance. Personagens fortes”. Ele sorriu: “Se for bom, pago uma rodada de champanhe para a turma do esporte”. Deu um passo, parou e mudou o conteúdo da promessa: “Melhor, rodada de cerveja”. Foi a minha vez de sorrir.
Voltou do Rio, a minissérie foi ao ar com as merecidas honras e Roberto não falou no trato. A Veja publicou nota revelando o valor do contrato. Excelente. O tempo passou de novo. Ele sempre passa. No início do terceiro milênio estava na capa do jornal. Uma tarde, Roberto me chamou. Estava de pé, com as mãos para trás: “Arnaldo, sabe aquele champanhe?”. E me deu uma garrafinha do espumante, daquelas distribuídas em aviões. Do tamanho de um mini refrigerante. O idiota aqui não teve a lucidez de pegar autógrafo.
Ano seguinte, ainda na capa, fechei a edição e fui para casa. Tema do dia, vitória do Brasil sobre a Inglaterra, na Copa da Ásia. Dormia. O telefone tocou: “Volte, o Roberto morreu!”. Mais uma vez, o tempo. Sábado desses, fui a uma livraria na região da Savassi. Era o lançamento do livro da Déa Januzzi. Indisciplinado com horários, cheguei tarde. A loja estava fechada. Voltei e cruzei com o Roberto. Imóvel, evidente. E com máscara. E ele nem precisa. Está no plano dos imortais. À sua volta, bares lotados e a juventude sem proteção, desafiando o vírus, que acabou no divã do analista, na deliciosa versão do criativo chargista Quinho, dizendo-se ignorado. Aqui pra ele, ó! Não caia nessa Roberto. Continue de máscara como exemplo para os incautos mortais.
Um dia, é certo, tomaremos um champanhe de verdade, dos grandes, como aqueles do pódio da Fórmula 1. Eu, você, Marquinhos, Fialho Pacheco, Wander, Carlos Eduardo, Edméia, Elizabeth, Vargas, Amantino, Cyro, os Plínios (Carneiro e Barreto), Déa, Délio Rocha, Euro Arantes, Célius (o General), Joffre, Osvaldo Nobre, Célio Horta, Felipe Drummond, Son Salvador, Helos Porfírio, Wagner Seixas, Bruno (acho que Guimarães), Alfredo Durães, Magrace, Lenoir, em confraternização na qual estarão presentes ainda, claro, todos aqueles e aquelas que me faltam à mente desgastada pelos coronavírus e bolsonavírus. Quem vai servir? Sugiro o Olympio, aquele que se tornou legendário no salão do Lucas. Por que não? Embebedou quase todos em noites de boemia e de ataques à ditadura e à má política.
[11/12/20]